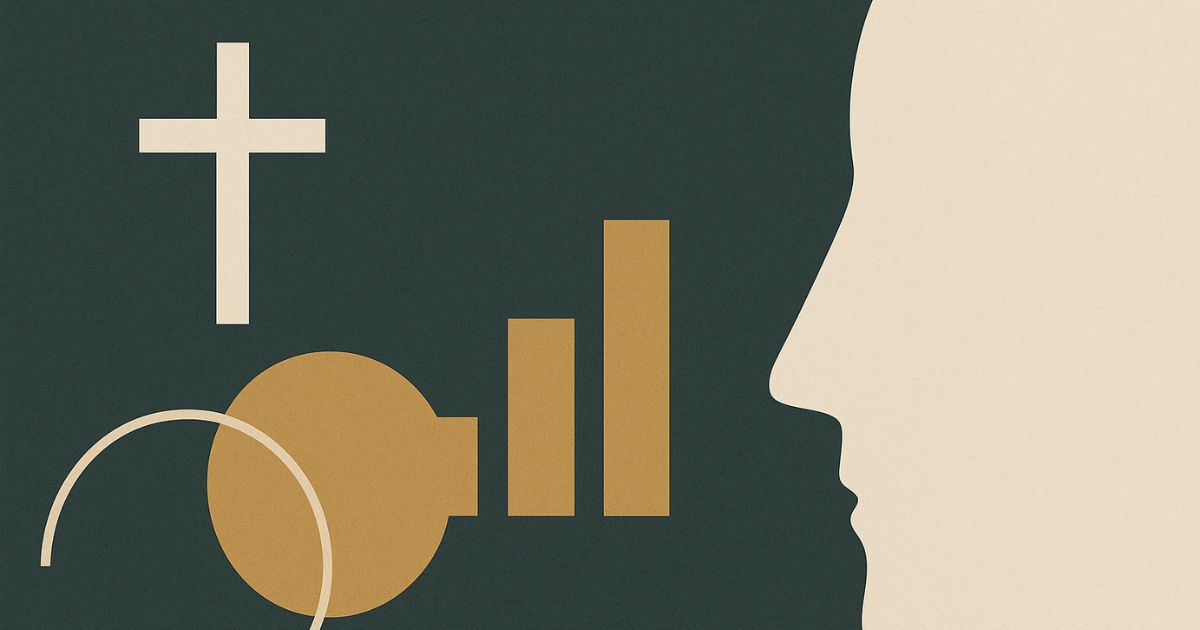Ao longo da história da humanidade, uma constante atravessa impérios, religiões, sistemas econômicos e correntes filosóficas: nós sofremos, a dor é real. Sofremos no corpo, na mente e na alma; sofremos na guerra e na paz; sofremos na abundância e na escassez. Cada época trouxe seus próprios tipos de dores, e cada indivíduo enfrentou — e ainda enfrenta — seus próprios “demônios”.
Leia também: O Peso da Dor e o Silêncio dos Cúmplices
O que muda, no entanto, é como a sociedade interpreta e lida com esse sofrimento. Nem sempre existiu o conceito de vitimização. Nas sociedades antigas, lamentar-se publicamente não era, via de regra, bem-visto. A dor, quando exposta, podia ser interpretada como fraqueza, vergonha familiar, castigo divino, instabilidade emocional, preguiça ou até sinal de má reputação.
Quando o conceito de vitimização começou a surgir — em sua acepção original — ele não carregava conotação pejorativa. Ser vítima era uma constatação de fato: alguém foi injustiçado, ferido, violentado ou oprimido, e a comunidade reconhecia o dano e a legitimidade da queixa. A partir da modernidade, porém, o termo ganhou outro tom: “vitimizar-se” passou a significar usar a dor como capital social ou manipulação emocional. Essa mudança diz mais sobre a incapacidade coletiva de lidar com o sofrimento alheio do que sobre quem sofre.
O primeiro século da Igreja: o auge da liberdade para sofrer juntos
Se há um período em que o sofrimento foi não apenas aceito, mas compartilhado, aliviado e até honrado com naturalidade, foi o primeiro século da Igreja Cristã. O pano de fundo era o judaísmo, que já possuía um espaço legítimo para o lamento — basta lembrar dos Salmos, dos profetas que choravam sobre Jerusalém, das lamentações públicas nos portões da cidade.
Jesus, porém, elevou esse espaço a outro patamar. Ele não apenas chorou com os que choravam (Jo 11.35), como validou a dor ao ponto de incluí-la nas bem-aventuranças (“Bem-aventurados os que choram…” – Mt 5.4). Os discípulos viviam em comunhão profunda: “levai as cargas uns dos outros” (Gl 6.2) não era uma frase de efeito, mas um modo de vida. A dor não era vergonha, não era moeda, e tampouco era escondida.
A virada ascética e penitencial
A partir do século II d.C., especialmente com o avanço da patrística e do monasticismo, o sofrimento começou a ganhar contornos penitenciais. A dor passou a ser vista como instrumento de purificação — e, nesse sentido, “digna de louvor”. Porém, essa valorização ascética trouxe efeitos colaterais: quando o sofrimento não estava ligado à penitência ou à fé, podia ser visto como sinal de pecado, desordem espiritual ou falta de disciplina.
Na Idade Média, a melancolia — conceito próximo ao que chamaríamos hoje de depressão — passou a ser associada à acídia, uma “preguiça espiritual” condenada pelos monges. Ainda assim, a Igreja, mesmo com interpretações duras, foi uma das poucas instituições a prover cuidado sistemático: surgiram hospitais, albergues e ordens dedicadas a aliviar o sofrimento dos moribundos.
A Reforma e o resgate da palavra
A Reforma Protestante rompeu, entre outras coisas, o monopólio da Igreja Católica sobre a administração do sofrimento. A possibilidade de falar sobre a própria dor saiu dos confessionários e voltou ao espaço da comunidade. Martinho Lutero, com franqueza, falava de suas ansiedades, medos e ataques espirituais. O sofrimento foi devolvido ao campo humano, acessível, compartilhável. O cuidado deixou de ser apenas institucional e voltou a ser relacional.
O desprezo moderno pela dor
O Iluminismo trouxe avanços médicos e científicos, mas também cultivou uma visão mais fria: o sofrimento passou a ser algo a ser racionalmente eliminado ou, quando impossível, ignorado. A Revolução Industrial agravou esse quadro. Dores físicas e emocionais eram vistas como obstáculos à produtividade; quem não trabalhava era fraco.
Com a ascensão da psicanálise e, posteriormente, da psicologia, houve uma validação acadêmica e clínica da dor emocional. Entretanto, o sofrimento começou também a se tornar um produto: clínicas, terapias e medicamentos passaram a ser parte de uma indústria. No capitalismo contemporâneo, “quanto mais se tem para pagar, menos se tem para sofrer” — e vice-versa.
A Igreja contemporânea: múltiplas leituras do sofrimento
Nos últimos séculos, a Igreja Cristã assumiu diversas roupagens. Há vertentes que ainda veem a dor como pecado, falta de fé ou até ação demoníaca, especialmente sob a influência de teologias triunfalistas (positivista, da prosperidade, coaching evangélico). Por outro lado, existem comunidades que reconhecem o sofrimento como parte legítima da jornada cristã, buscando meios para atenuá-lo e acompanhar o sofredor com paciência e misericórdia.
Historicamente, apesar de seus desvios, a fé cristã manteve um diferencial: o cuidado com o fraco e o vulnerável como prioridade. Das primeiras comunidades às missões médicas modernas, dos hospitais monásticos aos centros de reabilitação, a cruz sempre foi um símbolo de compaixão ativa — ainda que, em alguns momentos, esquecida por seus próprios seguidores.
Conclusão
A história nos mostra que a dificuldade humana de lidar com a dor — seja a própria, seja a alheia — não é nova. A cruz de Cristo, porém, nos lembra que não existe cura sem partilha, nem redenção sem compaixão. No primeiro século, os discípulos tinham algo que talvez tenhamos perdido: a liberdade de sofrer juntos, sem máscaras, sem mercado e sem vergonha.
Talvez, no meio de tantas mudanças culturais e econômicas, seja hora de resgatar essa liberdade — não para romantizar o sofrimento, mas para finalmente dar-lhe o tratamento que merece: verdade, consolo e comunidade.